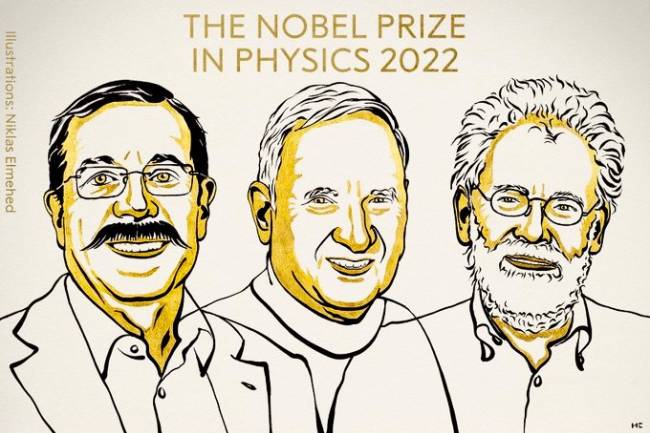O Luto que Não se Pode Fazer
“É reconfortante andar por entre objetos familiares no último período da nossa vida.”
Marilyn Yalom, no livro “Uma questão de morte e de vida”
Sabemos que em momentos específicos da vida, especialmente face a acontecimentos traumáticos de maior ou menor inscrição de descontinuidade, tendemos a “arrefecer” como forma de suportar a dor e continuar a viver.
Principalmente se estes acontecimentos trouxerem a mortalidade mais à superfície, bem como a incerteza.
O momento inicial de pandemia pediu-nos a todos que nos resguardássemos a bem da nossa própria saúde e a bem da saúde global, trazendo também à superfície a evidência de que não existimos sozinhos e que apenas numa atitude de cooperação e respeito mútuo poderíamos ultrapassar com vida esta etapa de turbulência e de desconhecimento.
Contudo, foi-nos simultaneamente pedido que deixássemos totalmente entregues aos profissionais de saúde aqueles que adoeciam por este vírus e aqueles que, por outros adoeceres, se viam em situação de internamento, privados da companhia das suas pessoas significativas. Tentativas múltiplas de mitigar esta situação surgiram, levadas a cabo por todos os profissionais de saúde, de acordo com aquilo que era possível num primeiro momento. Acreditando num bem comum, aceitamos o que seria uma situação transitória e que se impunha como medida de travagem de contágios. A ideia de que somos também aqueles que transportamos e a confiança na humanidade dos profissionais pode ter aconchegado o medo de estarmos a deixar entregues à sua própria sorte e morte aqueles que, de entre todos nós, viviam a maior das vulnerabilidades.
Mas mesmo neste terreno de compreensão, corpos foram enterrados como corpos e não carregados da simbologia de que eram feitos, o cru apareceu até na morte e a morte foi, em muitos casos, verdadeiramente mortal, porque impedida de se ver cumprida nos rituais fúnebres que lhe conferem significado. A psicologia, a psicanálise, bem como a psicossomática reconhecem o lugar do morto sem corpo, e da morte sem despedida, como uma das situações mais traumáticas e difíceis de elaborar.
Se num primeiro momento, a bem da saúde, estas situações encontraram algum terreno para se justificar, meses depois o terreno explicativo estava seco e neste momento não parece haver já qualquer teoria explicativa que não seja a do arrefecimento por adormecimento e dormência que encontre solo fértil para que as visitas e os acompanhantes em situação de doença permaneçam entregues a uma lógica de letalidade que já não se encontra adequada à realidade ou sujeitas à boa vontade dos profissionais de saúde e suas instituições.
Afirmações como: “a mim o médico deixou-me ir despedir da minha mãe, mas como só podia ir uma pessoa, a minha irmã já não foi” ou “não me deixaram ir despedir da minha mãe e ela morreu nesse dia”, são afirmações que denunciam uma atitude da Saúde condescendente e assente em pilares pouco conscientes da complexidade humana, bem como do impacto traumático que preconizam. A prevenção do adoecer só pode acontecer se houver uma abordagem psicossomática abrangente que reconhece as repercussões que a dor mental acarreta, quer no corpo, quer do ponto de vista social.
O luto que não se pode fazer, o da desumanização, cria clivagens e dores múltiplas. Não podemos continuar a falar de saúde se não o integrarmos.